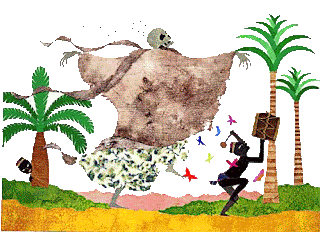Em muitas tribos africanas, o mito da fertilidade sobrevive com a mesma força. Entre os cuanhama, da Costa do Marfim, ou os lobi de Angola, quando as mulheres engravidam, passam a andar com bonecas penduradas na cintura. Se querem um filho homem, o objeto terá características masculinas. Se desejam uma filha, a boneca será enfeitada com brincos e colares coloridos. Quando a mãe ou avó presenteia a menina com uma boneca, faz-se uma festa. E como se a família Ihe confiasse a imagem de sua futura descendência, protegendo-a contra a esterilidade. Entre os índios carajás, de Goiás, somente mulheres e meninas podem manipular as pequenas bonecas de barro chamadas litjocós, conhecidas pelos bandeirantes e até hoje produzidas por essa tribo que já somou 9 000 pessoas e hoje está reduzida a pouco mais de 400 índios. Muitas delas dão forma aos seres mágicos da mitologia carajá.Com uma enorme carga simbólica pagã, é compreensível que a Igreja Católica tenha perseguido tanto as bonecas. Mas por maior que tenha sido a repressão, o fascínio ressurgiu em todas as oportunidades que teve.
Fragmento da revista superinteressante edição 59.
Olá, bem vindo ao Blog ! conheça nosso projeto de confecção de bonecas étnicas de Londrina.
Este blog tem o principal objetivo de divulgar as bonecas negras como um objeto de vivência. A sua confecção se dá através de oficinas e mini cursos realizados nas escolas.
quarta-feira, 10 de novembro de 2010
Contos africanos -OS GÊMEOS QUE FIZERAM A MORTE DANÇAR-
Na velha aldeia de Ifá tudo transcorria normalmente.Todos faziam seu trabalho,as lavouras davam seus bons frutos,os animais procriavam,crianças nasciam fortes e saudáveis. Mas um dia a Morte resolveu concentrar ali sua colheita.
Aí tudo começou a dar errado.
As lavouras ficaram inférteis,
as fontes e correntes de água secaram,o gado e tudo o que era bicho de criação definharam.Já não havia
o que comer e beber.No desespero da difícil sobrevivência,as pessoas se agrediam umas às outras, ninguém se entendia, tudo virava uma guerra. As pessoas começaram a morrer aos montes.
Instalada ali no povoado, a Morte vivia rondando todos,
especialmente as pessoas fracas, velhas e doentes.
A Morte roubava essas pessoas e as levava para o outro mundo,
longe da família e dos amigos.
A Morte tirava a vida delas.
Na aldeia morria-se de todas as causas possíveis:
de doença, de velhice, e até mesmo ao nascer.
Morria-se afogado, envenenado, enfeitiçado.
Morria-se por causa de acidentes,
maus-tratos e violência. Morria-se de fome, principalmente de fome. Mas também de tristeza, de saudade A Morte estava fazendo o seu grande banquete. Havia luto em todas as casas.
Todas as famílias choravam seus mortos. O rei mandou muitos emissários falar com a malvada, mas a Morte sempre respondia que não fazia acordos. Que ia destruir um por um, sem piedade.
Se alguém fosse forte o suficiente para enfrentá-la, que tentasse,
mas seu fim seria ainda muito mais sofrido e penoso.
Ela mandou dizer ao rei, por fim:
“Para não dizerem que sou muito rabugenta, até concordo em dar uma chance à aldeia.”
E ria e escarrava ao mesmo tempo, dizendo:
“Basta que uma pessoa me obrigue a fazer o que não quero.
Se alguém aqui me fizer agir contra a minha vontade,
eu irei embora.”
Depois, cuspindo nos seus interlocutores, completou:
“Ma só vou dar essa oportunidade a uma única pessoa.
Não vou dar nem a duas, nem a três.”
E foi-se embora dali, saboreando antecipadamente mais uma vitória.
Mas quem se atreveria a enfrentar a Morte?
Quem, se os mais bravos guerreiros estavam mortos
ou ardiam de febre em suas últimas horas de vida?
Quem, se os mais astutos diplomatas havia muito tinham partido?
Foi então que dois meninos, os Ibejis,
os irmãos gêmeos Taió e Caiandê,
que os fofoqueiros da cidade diziam ser filhos de Ifá,
resolveram pregar uma peça na horrenda criatura.
Antes que toda a aldeia fosse completamente dizimada,
eles resolveram dar um basta aos ataques da Morte.
Decidiram os Ibejis:
“Vamos dar um chega-pra-lá nessa fedorenta figura.”
Os meninos pegaram o tambor mágico, que tocavam como ninguém, e saíram à procura da Morte.
Não foi difícil achá-la numa estrada próxima, por onde ela perambulava em busca de mais vítimas. Sua presença era anunciada, do alto, por um bando de urubus que sobrevoavam a incrível peçonhenta.
E o cheiro! ah, o cheiro!
A fedentina que a Morte produzia à sua volta faria vomitar até uma estatueta de madeira.
Os meninos se esconderam numa moita e, tapando o nariz com um lenço, esperaram que ela se aproximasse.
Não tardou e a Morte foi chegando.
Os irmãos tremeram da cabeça aos pés.
Ainda escondidos na moita, só de olhar para ela sentiram
como os pêlos dos seus braços se arrepiavam.
A pele era branca, fria e escamosa;
o cabelo, sem cor, desgrenhado e quebradiço.
Sua boca sem dentes expelia uma baba esbranquiçada e purulenta. Seu hálito era de um fedor tremendo.
Mas podia-se dizer que a Morte estava feliz e contente.
Ela estava até cantando!
Pudera, tendo ceifado tantas vidas e tendo tantas outras para extinguir. Mas o canto da Morte era tão cavernoso e desafinado
que os passarinhos que ainda sobreviviam silenciavam como se fossem mudos brinquedos de pedra. O canto da Morte, se é que podemos chamar aquele ruído de canto, era tão desconfortável e medonho que os cachorros esqueléticos uivavam feito loucos
e os gatos magrelos bufavam e se arrepiavam todos.
Nesse momento, numa curva do caminho,
enquanto um dos irmão ficava escondido, o outro saltou do mato para a estrada, a poucos passos da Morte.
Saltou com seu tambor mágico, que tocava sem cessar, com muito ritmo. Tocava com toda a sua arte, todo o seu vigor.
Tocava com determinação e alegria.
Tocava bem como nunca tinha tocado antes.
A Morte se encantou com o ritmo do menino.
Com seu passo trôpego, ensaiou um dança sem graça.
E lá foi ela, alegre como ninguém,
dançando atrás do menino e de seu tambor,
ele na frente, ela atrás.
O espetáculo era grotesco, a dança da Morte era, no mínimo, patética. Nem vou contar como foi a cena:,
cada um que imagine por conta própria.
E é bem fácil imaginar.
Bem; lá ia o menino tocador e atrás ia a Morte.
Passou-se uma hora, passou-se outra e mais outra.
O menino não fazia nenhuma pausa e a Morte começou a se cansar. O sol já ia alto, os dois seguiam pela estrada afora,
e o tambor sem parar, tá tá tatá tá tá tatá.
O dia deu lugar à noite
e o tambor sem parar, tá tá tatá tá tá tatá.
E assim ia a coisa, madrugada adentro.
O menino tocava, a Morte dançava.
O menino ia na frente, sempre ligeiro e folgazão.
A Morte seguia atrás, exausta, não agüentando mais a aparição gritou:
“Pára de tocar, menino, vamos descansar um pouco”,
ela disse mais de uma vez.
Ele não parava.
“Pára essa porcaria de tambor, moleque,
ou hás de me pagar com a vida”,
ela ameaçou mais de uma vez.
E ele não parava.
“Pára que eu não agüento mais”, ela implorava.
E ele não parava.
Taió e Caiandê eram gêmeos idênticos.
Ninguém sabia diferenciar um do outro,
muito menos a Morte, que sempre foi cega e burra.
Pois bem, o moleque que a Morte via tocando na estrada sem parar não era sempre o mesmo menino.
Uma hora tocava Taió, enquanto Caiandê seguia por dentro do mato. Outra hora, quando Taió estava cansado,
Caiandê, aproveitando um curva da estrada, substituía o irmão no tambor. Taió entrava no mato e acompanhava a dupla sem se deixar ver. No mato o irmão que descansava podia fazer xixi,
beber a água depositada nas folhas dos arbustos,
enganar a fome comendo frutinhas silvestres.
Os gêmeos se revezavam e a música não parava nunca,
não parava nem por um minuto sequer.
Mas a Morte, coitada, não tinha substituto,
não podia parar, nem descansar, nem um minutinho só.
E o tambor sem cessar, tá tá tatá tá tá tatá.
Ela já nem respirava:
“Pára, pára, menino maldito.”
Mas o menino não parava.
E assim foi, por dias e dias.
Até os urubus já tinham deixado de acompanhar a Morte,
preferindo pousar na copa de umas árvores secas.
E o tambor sem parar, tá tá tatá tá tá tatá,
uma hora Taió, outra hora Caiandê.
Por fim, não agüentando mais, a aparição gritou:
“Pára com esse tambor maldito
e eu faço tudo o que me pedires.”
O menino virou-se para trás e disse:
“Pois então vá embora e deixe a minha aldeia em paz.”
“Aceito”, berrou a nauseabunda, vomitando na estrada.
O menino parou de tocar e ouviu a Morte dizer:
“Ah! que fracasso o meu.
Ser vencida por um simples pirralho.”
Então ela virou-se e foi embora.
Foi para longe do povoado, mas foi se lastimado:
“Eu me odeio. Eu me odeio.”
Só as moscas acompanhavam a Morte,
circundando sua cabeça descarnada.
Tocando e dançando,
os gêmeos voltaram para a aldeia
para dar a boa notícia.
Foram recebidos de braços abertos.
Todos queriam abraçá-los e beijá-los.
Em pouco tempo a vida normal voltou a reinar no povoado, a saúde retornou às casas e a alegria reapareceu nas ruas.
Muitas homenagens foram feitas aos valentes Ibejis. Mesmo depois de transcorrido certo tempo,sempre que Taió e Caiandê passavam na direção do mercado,havia alguém que comentava:“Olha os meninos gêmeos que nos salvaram.”E mais alguém complementava: “Que a lembrança de sua valentia nunca se apague de nossa memória.” Ao que alguém acrescentava:
“Mas eles não são a cara do Adivinho?”
Aí tudo começou a dar errado.
As lavouras ficaram inférteis,
as fontes e correntes de água secaram,o gado e tudo o que era bicho de criação definharam.Já não havia
o que comer e beber.No desespero da difícil sobrevivência,as pessoas se agrediam umas às outras, ninguém se entendia, tudo virava uma guerra. As pessoas começaram a morrer aos montes.
Instalada ali no povoado, a Morte vivia rondando todos,
especialmente as pessoas fracas, velhas e doentes.
A Morte roubava essas pessoas e as levava para o outro mundo,
longe da família e dos amigos.
A Morte tirava a vida delas.
Na aldeia morria-se de todas as causas possíveis:
de doença, de velhice, e até mesmo ao nascer.
Morria-se afogado, envenenado, enfeitiçado.
Morria-se por causa de acidentes,
maus-tratos e violência. Morria-se de fome, principalmente de fome. Mas também de tristeza, de saudade A Morte estava fazendo o seu grande banquete. Havia luto em todas as casas.
Todas as famílias choravam seus mortos. O rei mandou muitos emissários falar com a malvada, mas a Morte sempre respondia que não fazia acordos. Que ia destruir um por um, sem piedade.
Se alguém fosse forte o suficiente para enfrentá-la, que tentasse,
mas seu fim seria ainda muito mais sofrido e penoso.
Ela mandou dizer ao rei, por fim:
“Para não dizerem que sou muito rabugenta, até concordo em dar uma chance à aldeia.”
E ria e escarrava ao mesmo tempo, dizendo:
“Basta que uma pessoa me obrigue a fazer o que não quero.
Se alguém aqui me fizer agir contra a minha vontade,
eu irei embora.”
Depois, cuspindo nos seus interlocutores, completou:
“Ma só vou dar essa oportunidade a uma única pessoa.
Não vou dar nem a duas, nem a três.”
E foi-se embora dali, saboreando antecipadamente mais uma vitória.
Mas quem se atreveria a enfrentar a Morte?
Quem, se os mais bravos guerreiros estavam mortos
ou ardiam de febre em suas últimas horas de vida?
Quem, se os mais astutos diplomatas havia muito tinham partido?
Foi então que dois meninos, os Ibejis,
os irmãos gêmeos Taió e Caiandê,
que os fofoqueiros da cidade diziam ser filhos de Ifá,
resolveram pregar uma peça na horrenda criatura.
Antes que toda a aldeia fosse completamente dizimada,
eles resolveram dar um basta aos ataques da Morte.
Decidiram os Ibejis:
“Vamos dar um chega-pra-lá nessa fedorenta figura.”
Os meninos pegaram o tambor mágico, que tocavam como ninguém, e saíram à procura da Morte.
Não foi difícil achá-la numa estrada próxima, por onde ela perambulava em busca de mais vítimas. Sua presença era anunciada, do alto, por um bando de urubus que sobrevoavam a incrível peçonhenta.
E o cheiro! ah, o cheiro!
A fedentina que a Morte produzia à sua volta faria vomitar até uma estatueta de madeira.
Os meninos se esconderam numa moita e, tapando o nariz com um lenço, esperaram que ela se aproximasse.
Não tardou e a Morte foi chegando.
Os irmãos tremeram da cabeça aos pés.
Ainda escondidos na moita, só de olhar para ela sentiram
como os pêlos dos seus braços se arrepiavam.
A pele era branca, fria e escamosa;
o cabelo, sem cor, desgrenhado e quebradiço.
Sua boca sem dentes expelia uma baba esbranquiçada e purulenta. Seu hálito era de um fedor tremendo.
Mas podia-se dizer que a Morte estava feliz e contente.
Ela estava até cantando!
Pudera, tendo ceifado tantas vidas e tendo tantas outras para extinguir. Mas o canto da Morte era tão cavernoso e desafinado
que os passarinhos que ainda sobreviviam silenciavam como se fossem mudos brinquedos de pedra. O canto da Morte, se é que podemos chamar aquele ruído de canto, era tão desconfortável e medonho que os cachorros esqueléticos uivavam feito loucos
e os gatos magrelos bufavam e se arrepiavam todos.
Nesse momento, numa curva do caminho,
enquanto um dos irmão ficava escondido, o outro saltou do mato para a estrada, a poucos passos da Morte.
Saltou com seu tambor mágico, que tocava sem cessar, com muito ritmo. Tocava com toda a sua arte, todo o seu vigor.
Tocava com determinação e alegria.
Tocava bem como nunca tinha tocado antes.
A Morte se encantou com o ritmo do menino.
Com seu passo trôpego, ensaiou um dança sem graça.
E lá foi ela, alegre como ninguém,
dançando atrás do menino e de seu tambor,
ele na frente, ela atrás.
O espetáculo era grotesco, a dança da Morte era, no mínimo, patética. Nem vou contar como foi a cena:,
cada um que imagine por conta própria.
E é bem fácil imaginar.
Bem; lá ia o menino tocador e atrás ia a Morte.
Passou-se uma hora, passou-se outra e mais outra.
O menino não fazia nenhuma pausa e a Morte começou a se cansar. O sol já ia alto, os dois seguiam pela estrada afora,
e o tambor sem parar, tá tá tatá tá tá tatá.
O dia deu lugar à noite
e o tambor sem parar, tá tá tatá tá tá tatá.
E assim ia a coisa, madrugada adentro.
O menino tocava, a Morte dançava.
O menino ia na frente, sempre ligeiro e folgazão.
A Morte seguia atrás, exausta, não agüentando mais a aparição gritou:
“Pára de tocar, menino, vamos descansar um pouco”,
ela disse mais de uma vez.
Ele não parava.
“Pára essa porcaria de tambor, moleque,
ou hás de me pagar com a vida”,
ela ameaçou mais de uma vez.
E ele não parava.
“Pára que eu não agüento mais”, ela implorava.
E ele não parava.
Taió e Caiandê eram gêmeos idênticos.
Ninguém sabia diferenciar um do outro,
muito menos a Morte, que sempre foi cega e burra.
Pois bem, o moleque que a Morte via tocando na estrada sem parar não era sempre o mesmo menino.
Uma hora tocava Taió, enquanto Caiandê seguia por dentro do mato. Outra hora, quando Taió estava cansado,
Caiandê, aproveitando um curva da estrada, substituía o irmão no tambor. Taió entrava no mato e acompanhava a dupla sem se deixar ver. No mato o irmão que descansava podia fazer xixi,
beber a água depositada nas folhas dos arbustos,
enganar a fome comendo frutinhas silvestres.
Os gêmeos se revezavam e a música não parava nunca,
não parava nem por um minuto sequer.
Mas a Morte, coitada, não tinha substituto,
não podia parar, nem descansar, nem um minutinho só.
E o tambor sem cessar, tá tá tatá tá tá tatá.
Ela já nem respirava:
“Pára, pára, menino maldito.”
Mas o menino não parava.
E assim foi, por dias e dias.
Até os urubus já tinham deixado de acompanhar a Morte,
preferindo pousar na copa de umas árvores secas.
E o tambor sem parar, tá tá tatá tá tá tatá,
uma hora Taió, outra hora Caiandê.
Por fim, não agüentando mais, a aparição gritou:
“Pára com esse tambor maldito
e eu faço tudo o que me pedires.”
O menino virou-se para trás e disse:
“Pois então vá embora e deixe a minha aldeia em paz.”
“Aceito”, berrou a nauseabunda, vomitando na estrada.
O menino parou de tocar e ouviu a Morte dizer:
“Ah! que fracasso o meu.
Ser vencida por um simples pirralho.”
Então ela virou-se e foi embora.
Foi para longe do povoado, mas foi se lastimado:
“Eu me odeio. Eu me odeio.”
Só as moscas acompanhavam a Morte,
circundando sua cabeça descarnada.
Tocando e dançando,
os gêmeos voltaram para a aldeia
para dar a boa notícia.
Foram recebidos de braços abertos.
Todos queriam abraçá-los e beijá-los.
Em pouco tempo a vida normal voltou a reinar no povoado, a saúde retornou às casas e a alegria reapareceu nas ruas.
Muitas homenagens foram feitas aos valentes Ibejis. Mesmo depois de transcorrido certo tempo,sempre que Taió e Caiandê passavam na direção do mercado,havia alguém que comentava:“Olha os meninos gêmeos que nos salvaram.”E mais alguém complementava: “Que a lembrança de sua valentia nunca se apague de nossa memória.” Ao que alguém acrescentava:
“Mas eles não são a cara do Adivinho?”
Contos
IBEJI
Existiam num reino dois pequenos príncipes gêmeos
que traziam sorte a todos.
Os problemas mais difíceis eram resolvidos por eles;
em troca, pediam doces balas e brinquedos.
Esses meninos faziam muitas traquinagens e, um dia,
brincando próximos a uma cachoeira,
um deles caiu no rio e morreu afogado.
Todos do reino ficaram muito tristes pela morte do príncipe.
O gêmeo que sobreviveu não tinha mais vontade de comer
e vivia chorando de saudades do seu irmão,
pedia sempre a Orumilá que o levasse para perto do irmão.
Sensibilizado pelo pedido,
Orumilá resolveu levá-lo para se encontrar com o irmão no céu,
deixando na terra duas imagens de barro. Desde então,
todos que precisam de ajuda deixam oferendas
aos pés dessas imagens para ter seus pedidos atendidos.
Na África, as crianças representam a certeza da continuidade, por isso os pais consideram seus filhos sua maior riqueza. A palavra Ibeji quer dizer gêmeos. Forma-se a partir de duas entidades distintas que coexistem, respeitando o princípio básico da dualidade.
Entre as divindades africanas, Ibeji é o que indica a contradição, os opostos que caminham juntos. Ibeji mostra que todas as coisas, em todas as circunstâncias, têm dois lados e que a justiça só pode ser feita se as duas medidas forem pesadas, se os dois lados forem ouvidos.
Recomenda-se tratar os gêmeos de maneira sempre igual, compartilhando com muita equidade entre os dois tudo o que lhes for oferecido.
Quando um deles morre com pouca idade o costume exige que uma estatueta representando a criança falecida seja esculpida e que a mãe a carregue sempre. Mais tarde o gêmeo sobrevivente ao chegar à idade adulta cuidará sempre de oferecer à efígie do irmão uma parte daquilo que ele come e bebe. Os gêmeos são, para os pais uma garantia de sorte e de fortuna.
No Brasil, os Ibejis são sincretizados com os santos católicos Cosme e Damião, eles foram os primeiros santos a terem uma igreja erigida para seu culto no Brasil. Ela foi construída em Igarassu, Pernambuco em 1535 e ainda existe. Os escravos adotaram os santos gêmeos católicos para festejar seus Ibejis ou Erês (que significa criança que gosta de oferendas).
As festas de Ibejis tiveram origem na Lei do ventre-Livre e desde daquela época até hoje, são servidos às crianças um aluá ou água com açúcar ( refrigerantes, brinquedos, doces, bolos no dia de hoje), bem como o caruru (prato à base de quiabo e dendê, tem origem na África, no culto da sociedade yorubá aos Ibeji) tradição da festa na Bahia seguido de muita fartura.
Fonte Uniblog.com br
Existiam num reino dois pequenos príncipes gêmeos
que traziam sorte a todos.
Os problemas mais difíceis eram resolvidos por eles;
em troca, pediam doces balas e brinquedos.
Esses meninos faziam muitas traquinagens e, um dia,
brincando próximos a uma cachoeira,
um deles caiu no rio e morreu afogado.
Todos do reino ficaram muito tristes pela morte do príncipe.
O gêmeo que sobreviveu não tinha mais vontade de comer
e vivia chorando de saudades do seu irmão,
pedia sempre a Orumilá que o levasse para perto do irmão.
Sensibilizado pelo pedido,
Orumilá resolveu levá-lo para se encontrar com o irmão no céu,
deixando na terra duas imagens de barro. Desde então,
todos que precisam de ajuda deixam oferendas
aos pés dessas imagens para ter seus pedidos atendidos.
Na África, as crianças representam a certeza da continuidade, por isso os pais consideram seus filhos sua maior riqueza. A palavra Ibeji quer dizer gêmeos. Forma-se a partir de duas entidades distintas que coexistem, respeitando o princípio básico da dualidade.
Entre as divindades africanas, Ibeji é o que indica a contradição, os opostos que caminham juntos. Ibeji mostra que todas as coisas, em todas as circunstâncias, têm dois lados e que a justiça só pode ser feita se as duas medidas forem pesadas, se os dois lados forem ouvidos.
Recomenda-se tratar os gêmeos de maneira sempre igual, compartilhando com muita equidade entre os dois tudo o que lhes for oferecido.
Quando um deles morre com pouca idade o costume exige que uma estatueta representando a criança falecida seja esculpida e que a mãe a carregue sempre. Mais tarde o gêmeo sobrevivente ao chegar à idade adulta cuidará sempre de oferecer à efígie do irmão uma parte daquilo que ele come e bebe. Os gêmeos são, para os pais uma garantia de sorte e de fortuna.
No Brasil, os Ibejis são sincretizados com os santos católicos Cosme e Damião, eles foram os primeiros santos a terem uma igreja erigida para seu culto no Brasil. Ela foi construída em Igarassu, Pernambuco em 1535 e ainda existe. Os escravos adotaram os santos gêmeos católicos para festejar seus Ibejis ou Erês (que significa criança que gosta de oferendas).
As festas de Ibejis tiveram origem na Lei do ventre-Livre e desde daquela época até hoje, são servidos às crianças um aluá ou água com açúcar ( refrigerantes, brinquedos, doces, bolos no dia de hoje), bem como o caruru (prato à base de quiabo e dendê, tem origem na África, no culto da sociedade yorubá aos Ibeji) tradição da festa na Bahia seguido de muita fartura.
Fonte Uniblog.com br
- Algumas brincadeiras africanas -
Devido ao passado escravista, a diversidade cultural do Brasil está fortemente ligada à cultura africana. A influência na formação do povo brasileiro foi determinante em vários aspectos: ainda que os escravos fossem subjugados pelos brancos, a convivência entre eles era intensa e não havia como evitar a transmissão de crenças, costumes e religiões. Com as crianças, não foi diferente. Uma das funções dos filhos de escravos era acompanhar o “sinhozinho” e a “sinhazinha” na hora da diversão, o que acabou consolidando no país diversas brincadeiras de origem africana que até hoje são as preferidas de meninos e meninas.
Essas brincadeiras precisam de poucos recursos e são mais conhecidas do que se imagina :
Escravos de Jó
É uma brincadeira de roda guiada por uma cantiga bem conhecida, cuja letra pode mudar de região para região. Para brincar, é preciso no mínimo duas pessoas. Todos têm suas pedrinhas e no começo elas são transferidas entre os participantes, seguindo a sequência da roda. Depois, quando os versos dizem “Tira, põe, deixa ficar!”, todas seguem a orientação da música. No verso “Guerreiros com guerreiros”, a transferência das pedrinhas é retomada, até chegar ao trecho “zigue, zigue, zá!”, quando os participantes movimentam as pedras que estão em mãos para um lado e para o outro, sem entregá-las a ninguém. O jogador que erra os movimentos é eliminado da brincadeira, até que surja um único vencedor.
Pular corda
Preferida das meninas, tanto na versão tradicional quando nas versões diferenciadas em que a brincadeira é guiada por alguma cantiga. Além de ser divertida para o lazer, é uma atividade excelente para exercitar o coração e a coordenação motora. Pode ser praticada tanto individualmente quanto em grupo, quando duas pessoas seguram as pontas das cordas e movimenta o instrumento para que um ou mais participantes possam pular. Quem esbarrar na corda sai da brincadeira. Ou simplesmente perde, e continua!
Pular elástico
Outra muito apreciada pelas meninas! Para brincar, basta separar pelo menos 2 metros de elástico de roupa e dar um nó. É necessário no mínimo 3 participantes: duas para segurar o elástico e outra para pular. As duas crianças que vão segurar o elástico ficam em pé, frente a frente, e colocam o elástico em volta dos tornozelos para formar um retângulo. Daí, o participante da vez faz uma sequência de saltos: pula para dentro, sobre e para fora do elástico, tentando completar a tarefa sem tropeçar. O grau de dificuldade aumenta ao longo da disputa: o elástico ainda deve subir do tornozelo para o joelho, cintura, tronco e pescoço. Dependendo da altura das crianças, o jogo vai ficando impraticável, mas é o desafio que estimula a brincadeira!
Essas brincadeiras precisam de poucos recursos e são mais conhecidas do que se imagina :
Escravos de Jó
É uma brincadeira de roda guiada por uma cantiga bem conhecida, cuja letra pode mudar de região para região. Para brincar, é preciso no mínimo duas pessoas. Todos têm suas pedrinhas e no começo elas são transferidas entre os participantes, seguindo a sequência da roda. Depois, quando os versos dizem “Tira, põe, deixa ficar!”, todas seguem a orientação da música. No verso “Guerreiros com guerreiros”, a transferência das pedrinhas é retomada, até chegar ao trecho “zigue, zigue, zá!”, quando os participantes movimentam as pedras que estão em mãos para um lado e para o outro, sem entregá-las a ninguém. O jogador que erra os movimentos é eliminado da brincadeira, até que surja um único vencedor.
Pular corda
Preferida das meninas, tanto na versão tradicional quando nas versões diferenciadas em que a brincadeira é guiada por alguma cantiga. Além de ser divertida para o lazer, é uma atividade excelente para exercitar o coração e a coordenação motora. Pode ser praticada tanto individualmente quanto em grupo, quando duas pessoas seguram as pontas das cordas e movimenta o instrumento para que um ou mais participantes possam pular. Quem esbarrar na corda sai da brincadeira. Ou simplesmente perde, e continua!
Pular elástico
Outra muito apreciada pelas meninas! Para brincar, basta separar pelo menos 2 metros de elástico de roupa e dar um nó. É necessário no mínimo 3 participantes: duas para segurar o elástico e outra para pular. As duas crianças que vão segurar o elástico ficam em pé, frente a frente, e colocam o elástico em volta dos tornozelos para formar um retângulo. Daí, o participante da vez faz uma sequência de saltos: pula para dentro, sobre e para fora do elástico, tentando completar a tarefa sem tropeçar. O grau de dificuldade aumenta ao longo da disputa: o elástico ainda deve subir do tornozelo para o joelho, cintura, tronco e pescoço. Dependendo da altura das crianças, o jogo vai ficando impraticável, mas é o desafio que estimula a brincadeira!
-A história do BamboLê-
O bambolê foi criado no Egito há três mil anos e era feito com fios secos de parreira. As crianças egípcias imitavam com os bambolês as artistas que dançavam com aros em torno do corpo.
O bambolê como conhecemos atualmente, de plástico colorido, surgiu nos Estados Unidos da América em 1958. Foi uma criação dos norte-americanos Arthur Melin e Richard Knerr, donos de uma fábrica de brinquedos, que trouxeram a idéia da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. O brinquedo foi batizado de hula hoop e eles venderam 25 milhões de unidades em apenas quatro meses. No mesmo ano, a fábrica de brinquedos Estrela lançou o hula no Brasil, com o nome tirado do verbo "bambolear" (gingar).
Na Inglaterra, o brinquedo era feito de madeira ou ferro - o que o tornava perigoso - foi até chamado de aro mortal.
A História do Brinquedo
Para as crianças conhecerem
e os adultos se lembrarem
Cristina Von
Editora Alegro
O bambolê como conhecemos atualmente, de plástico colorido, surgiu nos Estados Unidos da América em 1958. Foi uma criação dos norte-americanos Arthur Melin e Richard Knerr, donos de uma fábrica de brinquedos, que trouxeram a idéia da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. O brinquedo foi batizado de hula hoop e eles venderam 25 milhões de unidades em apenas quatro meses. No mesmo ano, a fábrica de brinquedos Estrela lançou o hula no Brasil, com o nome tirado do verbo "bambolear" (gingar).
Na Inglaterra, o brinquedo era feito de madeira ou ferro - o que o tornava perigoso - foi até chamado de aro mortal.
A História do Brinquedo
Para as crianças conhecerem
e os adultos se lembrarem
Cristina Von
Editora Alegro
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
Traje Africano
O traje africano
Fragmentos do texto de :Henrique Cunha Junior
Prof. da Faculdade de Engenharia
Universidade Federal do Ceará
Poderíamos materializar a exemplificação dessa Introdução a História Africana para Educadores através de diversos conteúdos e procurando alguma interdisciplinaridade. Poderíamos também fazê-lo de formas especificas e concentradas em áreas como na literatura, nas artes, nas tecnologias, na filosofia ou na botânica. Sim, botânica. São inúmeras as espécimes transplantadas da África para o Brasil, por motivos diversos: econômicos, religiosos, sanitários e hábitos africanos como a culinária ou os símbolos de status social e de poder. A utilização das literaturas africanas e o trânsito transformador para produção brasileira nos é dado pela boa abordagem no texto de Luis Carlos Santos. Sobre as artes temos alguns textos dentro os quais se destacam os da Heloisa Leuba, sobre A Grande Estatuária Sange do Zaire (Salum - 1990) e o da Cecília Calaça, com O Fenômeno da Arte Afrodescendente nas Obras de Artista Contemporâneos (Calaça - 1998 ). Nesta disciplina introdutória tomamos "O Traje Africano" como forma de materialização e exemplificação de conceitos e diversidade cultural africana, como também do elo África - Brasil. A escolha foi proposital, pois sobre a idéia dos africanos vindo das tribos dos homens nus repousa vários dos preconceitos do imaginário social brasileiro sobre a África, Africanos e nós Afrodescendentes. A nudez do escravizado no Brasil é apresentada simbolicamente como a de uma possível ausência de cultura e de civilização. As imagens dos livros didáticos de história do Brasil reforçam esta imagem geradora de preconceitos e de reducionismo do pensar a história. Deixam de apresentar as diversidades de imagens que temos de Africanos e Afrodescendentes em situações variadas no período do escravismo criminoso no Brasil. Com mais detalhes falamos dessa relação da Imagem e Imaginário na História Africana e do Brasil em um texto recente ( Cunha Jr.- 2001 ).
Começamos a história dos teares e das manufaturas têxteis no continente africano na história antiga do Egito e das histórias da África Ocidental, anterior a grande expansão predadora Européia na África. Sobre esta última e intimamente ligada a colonização africana no Brasil apresentamos as técnicas, estilos e importância da produção. Tomamos imagens e fotografias de trajes da África e depois de trajes de Africanos e Descendentes no Brasil, vindo até hoje no que restou das roupas das Baianas, das Congadas e Maracatus e das Religiões de base Africana. Os trajes da atualidade compuseram um rico discurso palpável visto que a professora Vanderly esteve neste ano no Mali, país da África Ocidental e trouxe esplendida coleção de roupas que deixou os participantes do curso admirados. "Ah a roupa Africana é assim! Puxa e nós que fizemos um desfile africano na escola totalmente desinformado fazendo amarrações de panos enrolados nas pessoas e pensando que aquilo fossem roupas do continente, estilizadas".
Fragmentos do texto de :Henrique Cunha Junior
Prof. da Faculdade de Engenharia
Universidade Federal do Ceará
Poderíamos materializar a exemplificação dessa Introdução a História Africana para Educadores através de diversos conteúdos e procurando alguma interdisciplinaridade. Poderíamos também fazê-lo de formas especificas e concentradas em áreas como na literatura, nas artes, nas tecnologias, na filosofia ou na botânica. Sim, botânica. São inúmeras as espécimes transplantadas da África para o Brasil, por motivos diversos: econômicos, religiosos, sanitários e hábitos africanos como a culinária ou os símbolos de status social e de poder. A utilização das literaturas africanas e o trânsito transformador para produção brasileira nos é dado pela boa abordagem no texto de Luis Carlos Santos. Sobre as artes temos alguns textos dentro os quais se destacam os da Heloisa Leuba, sobre A Grande Estatuária Sange do Zaire (Salum - 1990) e o da Cecília Calaça, com O Fenômeno da Arte Afrodescendente nas Obras de Artista Contemporâneos (Calaça - 1998 ). Nesta disciplina introdutória tomamos "O Traje Africano" como forma de materialização e exemplificação de conceitos e diversidade cultural africana, como também do elo África - Brasil. A escolha foi proposital, pois sobre a idéia dos africanos vindo das tribos dos homens nus repousa vários dos preconceitos do imaginário social brasileiro sobre a África, Africanos e nós Afrodescendentes. A nudez do escravizado no Brasil é apresentada simbolicamente como a de uma possível ausência de cultura e de civilização. As imagens dos livros didáticos de história do Brasil reforçam esta imagem geradora de preconceitos e de reducionismo do pensar a história. Deixam de apresentar as diversidades de imagens que temos de Africanos e Afrodescendentes em situações variadas no período do escravismo criminoso no Brasil. Com mais detalhes falamos dessa relação da Imagem e Imaginário na História Africana e do Brasil em um texto recente ( Cunha Jr.- 2001 ).
Começamos a história dos teares e das manufaturas têxteis no continente africano na história antiga do Egito e das histórias da África Ocidental, anterior a grande expansão predadora Européia na África. Sobre esta última e intimamente ligada a colonização africana no Brasil apresentamos as técnicas, estilos e importância da produção. Tomamos imagens e fotografias de trajes da África e depois de trajes de Africanos e Descendentes no Brasil, vindo até hoje no que restou das roupas das Baianas, das Congadas e Maracatus e das Religiões de base Africana. Os trajes da atualidade compuseram um rico discurso palpável visto que a professora Vanderly esteve neste ano no Mali, país da África Ocidental e trouxe esplendida coleção de roupas que deixou os participantes do curso admirados. "Ah a roupa Africana é assim! Puxa e nós que fizemos um desfile africano na escola totalmente desinformado fazendo amarrações de panos enrolados nas pessoas e pensando que aquilo fossem roupas do continente, estilizadas".
domingo, 7 de novembro de 2010
Oficinas de Bonecas de Pano 2008 -
Oficinas de Bonecas negras e abayomis-2008
A palavra abayomi tem origem incerta, em iorubá, significa aquele que traz, felicidade ou alegria. (Abayomi quer dizer encontro precioso: abay=encontro e omi=precioso). O nome é comum na África do sul.
No Brasil, designa bonecas de pano artesanais, muito simples, a partir de sobras de pano reaproveitadas, feitas apenas com nós, sem o uso de cola ou costura e com mínimo uso de ferramentas, de tamanho variando de 2 cm a 1,50 m, sempre negras, representando personagens, de circo, da mitologia, orixás, figuras do cotidiano, contos de fadas e manifestações folclóricas e culturais.
A palavra abayomi tem origem incerta, em iorubá, significa aquele que traz, felicidade ou alegria. (Abayomi quer dizer encontro precioso: abay=encontro e omi=precioso). O nome é comum na África do sul.
No Brasil, designa bonecas de pano artesanais, muito simples, a partir de sobras de pano reaproveitadas, feitas apenas com nós, sem o uso de cola ou costura e com mínimo uso de ferramentas, de tamanho variando de 2 cm a 1,50 m, sempre negras, representando personagens, de circo, da mitologia, orixás, figuras do cotidiano, contos de fadas e manifestações folclóricas e culturais.
A culinária africana.
Africanos foram forçados
a reinventar sua culinária
SYLVIA COLOMBO
Editora interina de Especiais
A escravidão deixou marcas indeléveis, em sua grande maioria negativas, na trajetória socioeconômica do Brasil. No que diz respeito ao legado cultural, porém, uma das heranças mais importantes da inserção dos negros na sociedade está na gastronomia.
A influência africana na dieta do brasileiro possui dois aspectos. O primeiro diz respeito ao modo de preparar e temperar os alimentos. O segundo, à introdução de ingredientes na culinária brasileira.
A condição de escravo foi determinante para explicar como a técnica culinária dos africanos desenvolveu-se no Brasil. Tendo sido aprisionados na África e viajado em péssimas condições, os negros não traziam consigo nenhuma bagagem, muito menos ingredientes culinários.
Isso reforçou a necessidade da improvisação para alimentarem-se no novo território, que, por sua vez, tinha uma estrutura ainda pouco eficaz. A própria elite tinha de importar vários gêneros.
Nos engenhos de açúcar, para onde foram levados, as cozinhas eram entregues às negras, pois, no começo, os colonizadores vieram sem suas mulheres. Responsáveis pela alimentação dos senhores brancos e com a necessidade de suprir sua própria demanda, os negros passaram a adaptar seus hábitos culinários aos ingredientes da colônia.
Na falta do inhame, usaram a mandioca; carentes das pimentas africanas, usaram e abusaram do azeite-de-dendê, que já conheciam da África (as primeiras árvores vieram no começo do século 16). Adeptos da caça, incorporaram à sua dieta os animais a que tinham acesso: tatus, lagartos, cutias, capivaras, preás e caranguejos, preparados nas senzalas.
A cozinha africana privilegia os assados em detrimento das frituras. O caldo é um item importante, proveniente do alimento assado ou simplesmente preparado com água e sal. É utilizado na mistura com a farinha obtida de diversos elementos.
No Brasil, essa prática popularizou o pirão _já conhecido pelos índios_, mistura do caldo com farinha de mandioca e o angu (caldo com farinha de milho).
O modo africano de cozinhar e temperar incorporou elementos culinários e pratos típicos portugueses e indígenas, transformando as receitas originais e dando forma à cozinha brasileira.
Da dieta portuguesa vieram, por exemplo, as galinhas e os ovos. Em princípio, eram dados apenas a negros doentes, pois acreditava-se que fossem alimentos revigorantes. Aos poucos, a galinha passou a ser incluída nas receitas afro-brasileiras que nasciam, como o vatapá e o xinxim, e que resistem até hoje, principalmente nos cardápios regionais.
Da dieta indígena, a culinária afro-brasileira incorporou, além da essencial mandioca, frutas e ervas. O prato afro-indígena brasileiro mais famoso é o caruru. Originalmente feito apenas de ervas socadas ao pilão, com o tempo ganhou outros ingredientes, como peixe e legumes cozidos.
O acarajé, hit da cozinha afro-brasileira, mistura feijão-fradinho, azeite-de-dendê, sal, cebola, camarões e pimenta. A popular pamonha de milho, por sua vez, origina-se de um prato africano, o acaçá.
A vinda dos africanos não significou somente a inclusão de formas de preparo e ingredientes na dieta colonial. Representou também a transformação da sua própria culinária. Muitos pratos afro-brasileiros habitam até hoje o continente africano, assim como vários pratos africanos reinventados com o uso de ingredientes do Brasil, como a mandioca, também fizeram o caminho de volta.
No que se refere aos ingredientes africanos que vieram para o Brasil durante a colonização, trazidos pelos traficantes de escravos e comerciantes, esses constituem hoje importantes elementos da cultura brasileira. Seu consumo é popular e sua imagem constitui parcela importante dos ícones do imaginário do país.
Vieram da África, entre outros, o coco, a banana, o café, a pimenta malagueta e o azeite-de-dendê. Sobre este, dizia Camara Cascudo: “O azeite-de-dendê acompanhou o negro como o arroz ao asiático e o doce ao árabe”. No Nordeste, são também populares o inhame, o quiabo, o gengibre, o amendoim, a melancia e o jiló.
Folha UOL-
a reinventar sua culinária
SYLVIA COLOMBO
Editora interina de Especiais
A escravidão deixou marcas indeléveis, em sua grande maioria negativas, na trajetória socioeconômica do Brasil. No que diz respeito ao legado cultural, porém, uma das heranças mais importantes da inserção dos negros na sociedade está na gastronomia.
A influência africana na dieta do brasileiro possui dois aspectos. O primeiro diz respeito ao modo de preparar e temperar os alimentos. O segundo, à introdução de ingredientes na culinária brasileira.
A condição de escravo foi determinante para explicar como a técnica culinária dos africanos desenvolveu-se no Brasil. Tendo sido aprisionados na África e viajado em péssimas condições, os negros não traziam consigo nenhuma bagagem, muito menos ingredientes culinários.
Isso reforçou a necessidade da improvisação para alimentarem-se no novo território, que, por sua vez, tinha uma estrutura ainda pouco eficaz. A própria elite tinha de importar vários gêneros.
Nos engenhos de açúcar, para onde foram levados, as cozinhas eram entregues às negras, pois, no começo, os colonizadores vieram sem suas mulheres. Responsáveis pela alimentação dos senhores brancos e com a necessidade de suprir sua própria demanda, os negros passaram a adaptar seus hábitos culinários aos ingredientes da colônia.
Na falta do inhame, usaram a mandioca; carentes das pimentas africanas, usaram e abusaram do azeite-de-dendê, que já conheciam da África (as primeiras árvores vieram no começo do século 16). Adeptos da caça, incorporaram à sua dieta os animais a que tinham acesso: tatus, lagartos, cutias, capivaras, preás e caranguejos, preparados nas senzalas.
A cozinha africana privilegia os assados em detrimento das frituras. O caldo é um item importante, proveniente do alimento assado ou simplesmente preparado com água e sal. É utilizado na mistura com a farinha obtida de diversos elementos.
No Brasil, essa prática popularizou o pirão _já conhecido pelos índios_, mistura do caldo com farinha de mandioca e o angu (caldo com farinha de milho).
O modo africano de cozinhar e temperar incorporou elementos culinários e pratos típicos portugueses e indígenas, transformando as receitas originais e dando forma à cozinha brasileira.
Da dieta portuguesa vieram, por exemplo, as galinhas e os ovos. Em princípio, eram dados apenas a negros doentes, pois acreditava-se que fossem alimentos revigorantes. Aos poucos, a galinha passou a ser incluída nas receitas afro-brasileiras que nasciam, como o vatapá e o xinxim, e que resistem até hoje, principalmente nos cardápios regionais.
Da dieta indígena, a culinária afro-brasileira incorporou, além da essencial mandioca, frutas e ervas. O prato afro-indígena brasileiro mais famoso é o caruru. Originalmente feito apenas de ervas socadas ao pilão, com o tempo ganhou outros ingredientes, como peixe e legumes cozidos.
O acarajé, hit da cozinha afro-brasileira, mistura feijão-fradinho, azeite-de-dendê, sal, cebola, camarões e pimenta. A popular pamonha de milho, por sua vez, origina-se de um prato africano, o acaçá.
A vinda dos africanos não significou somente a inclusão de formas de preparo e ingredientes na dieta colonial. Representou também a transformação da sua própria culinária. Muitos pratos afro-brasileiros habitam até hoje o continente africano, assim como vários pratos africanos reinventados com o uso de ingredientes do Brasil, como a mandioca, também fizeram o caminho de volta.
No que se refere aos ingredientes africanos que vieram para o Brasil durante a colonização, trazidos pelos traficantes de escravos e comerciantes, esses constituem hoje importantes elementos da cultura brasileira. Seu consumo é popular e sua imagem constitui parcela importante dos ícones do imaginário do país.
Vieram da África, entre outros, o coco, a banana, o café, a pimenta malagueta e o azeite-de-dendê. Sobre este, dizia Camara Cascudo: “O azeite-de-dendê acompanhou o negro como o arroz ao asiático e o doce ao árabe”. No Nordeste, são também populares o inhame, o quiabo, o gengibre, o amendoim, a melancia e o jiló.
Folha UOL-
Assinar:
Comentários (Atom)